“E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual — a fome!” A célebre frase da escritora Carolina Maria de Jesus, mulher preta, periférica e favelada, segue ressoando com força nos dias de hoje. Em Quarto de Despejo, Carolina não apenas narra sua existência marcada pela pobreza e exclusão, mas denuncia, com a legitimidade de quem vivenciou as violências do sistema, a permanência das estruturas herdadas da escravização.
A abolição de 1888, embora celebrada juridicamente, não desmantelou os mecanismos de opressão racial; apenas os reconfigurou. A escravidão, longe de ser uma página virada da história, persiste sob novas formas como a fome, a miséria, o racismo institucional e a exclusão social. Essas opressões são sustentadas por estruturas discriminatórias profundamente enraizadas, construídas a partir de relações de poder que, de forma intencional, subordinam determinados grupos sociais para manter os privilégios de outros.
Angela Davis, em sua obra A Liberdade é uma Luta Constante, nos alerta que sistemas opressores não desaparecem, eles se transformam. O racismo, longe de ter sido extinto com a abolição, foi ressignificado e incorporado às instituições, às políticas públicas (ou à ausência delas), às práticas policiais, ao sistema prisional, às escolas e, de forma contundente, aos indicadores de fome e pobreza. Um estudo que analisou microdados da PNAD 2013 à PNADC 2023 revelou que famílias negras têm 29% mais chances de vivenciar insegurança alimentar e são 37% mais propensas a enfrentar a fome, quando comparadas às famílias brancas. Esses números não decorrem do acaso, mas de um projeto histórico de exclusão. No Brasil, a fome tem cor — e essa cor é majoritariamente negra.
Cida Bento, ao discutir o conceito de “pacto narcísico da branquitude”, expõe como a preservação dos privilégios brancos se sustenta, em grande parte, na negação do racismo. Para muitos, a desigualdade no Brasil ainda é compreendida unicamente sob a ótica da classe social. No entanto, como a autora enfatiza, é impossível analisar a pobreza e a exclusão sem reconhecer o racismo como eixo estruturante dessas desigualdades. A experiência de Carolina Maria de Jesus evidencia que a pobreza no Brasil é, acima de tudo, racializada. E esse dado não pode ser ignorado por nenhuma área do saber, sobretudo no campo jurídico, onde o compromisso com a justiça deve ser não apenas um princípio abstrato, mas uma prática concreta e equitativa.
O Direito brasileiro, historicamente, foi cúmplice da exclusão. A Constituição de 1988, embora traga avanços significativos, como o reconhecimento do racismo como crime inafiançável e imprescritível, ainda caminha a passos lentos para garantir efetivamente os direitos da população negra. O sistema penal, por exemplo, é seletivo e punitivo com os corpos negros, os mesmos que foram escravizados, criminalizados e marginalizados ao longo da história.
Martin Luther King Jr. afirmou que “a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar”. Essa frase, tantas vezes citada, deve ser resgatada em sua profundidade. A fome não é apenas um problema social — é uma violação de direitos humanos, um sintoma de um sistema que perpetua desigualdades com base na raça. Enquanto houver fome, não há justiça. Enquanto a juventude negra for exterminada nas periferias, não há liberdade.
A verdadeira abolição ainda está por vir. Ela não será conquistada por decretos simbólicos nem por comemorações vazias de sentido. Virá, sim, com políticas de reparação histórica, com justiça racial efetiva, com redistribuição de renda, acesso pleno e digno à educação, à saúde, à moradia e à terra. A luta contra a “escravatura atual”, a fome, como denunciou Carolina Maria de Jesus é, na essência, uma luta contra o racismo estrutural, contra uma ordem econômica excludente e contra um sistema jurídico que, até hoje, não alcança a todos com a mesma medida de justiça.
A luta do povo negro é por dignidade, por memória e por reparação. É a exigência de que o Brasil reconheça sua dívida histórica e enfrente, com coragem, as marcas que a escravidão deixou, não apenas no passado, mas também no presente que insiste em reproduzir a exclusão. É preciso afirmar, com toda força, que a opressão do passado continua viva, mas também está viva a resistência. Está viva em cada corpo negro que sonha, denuncia, escreve, lidera, educa e transforma.
Como nos ensinou Angela Davis “Não aceitaremos o que não podemos mudar; mudaremos o que não podemos aceitar”. Seguimos com o verbo em punho, com o corpo em marcha e com a memória dos nossos ancestrais como guia inabalável. Vivemos porque resistimos e resistiremos em confluência coletiva sempre.

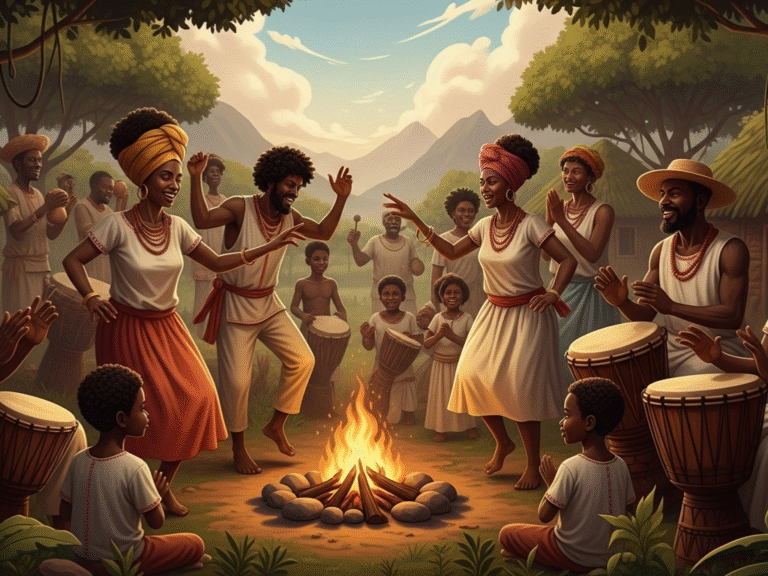

Uma resposta
Texto preciso e cirúrgico!